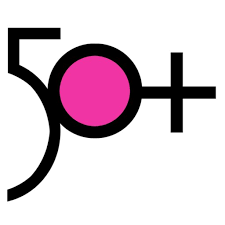É preciso deixar claro duas coisas sobre a agricultora aposentada e dona de casa Alaíde Dias de Souza, 72, que nasceu na localidade de Cercadinho e há mais de 50 anos se mudou para a parte mais central do povoado de Água Preta, em Encruzilhada (BA).
A primeira é que sempre trabalhou na roça, mais o pai e os irmãos. Depois que casou, em 1965, com seu Antônio (ou Toninho como ela chama o marido) ficou na mesma rotina.
A segunda é que não esconde que pegou “uma beirinha do sistema antigo”, da forma de viver de tempos que por pouco não escapam da memória.
Estas informações ajudam a entender muita coisa.
o acerto
No início dos anos 1960, o pai de Alaíde procurou a família de Antônio para oferecer a mão da filha em casamento. Ela tinha 16 anos e mal conhecia o jovem que frequentava as festas no Cercadinho.
Era a quarta proposta que os pais de Antônio, criadores de cabras e pouco gado, recebiam. Eles recusaram a irmã de um amigo do filho e duas moças – uma da localidade de Sítio Novo, bem próxima; outra de Mata Verde (MG). O fato das mães de Alaíde e Toninho serem primas facilitou o arranjo.
“Eu, às vezes, achava uma noiva e dizia: ‘Se pai e mãe quer, eu quero. Mas se eles não querem, saio fora” – conta o agricultor aposentado e ex-garimpeiro.
E a mulher faz coro:
“A mesma sugestão que ele deu para os pais deles eu dei para os meus e tudo se encaixou”.
Alaíde e Toninho namoraram dois anos, acompanhados de perto pelas famílias.
Do lado da jovem, todos eram “gostadores” de festas, mas ela e os irmãos só podiam ir com os pais. Os dois rapazes e as duas moças ficavam até o amanhecer. Mas quando vinha a ordem de ir embora, todo mundo obedecia e seguia para casa em fila indiana.
Assim funcionava o sistema antigo, que hoje está abolido de Água Preta.
o casamento
Chegou o dia do casório. O padre da sede do município, a sete quilômetros de distância, estava sendo esperado com um banquete. No meio do caminho, ele se perdeu, e seguiu para outro local, onde rezaria uma missa.
A demora do religioso fez a família e os convidados de Letícia procurar saber o acontecido e rumar para uma casinha próxima a um cemitério, onde a missa estava sendo realizada.
“Lembro até hoje que era eu e mais duas casando. As grinaldas passaram pela plantação e ficaram com folhas de milho penduradas. A casa onde aconteceu os casamentos era de enchimento, pau, palha e emboçada com capim. De lá, dava para ver o cemitério, a capelinha, as lápides, tudo” – detalha.
Quando acabou a celebração, a noiva trocou de roupa e seguiu com o marido a pé para a residência. Muitos convidados iam montados em cavalos e burros. Ao chegar em casa, Alaíde tornou a colocar o vestido branco, o véu e a grinalda para a festa que rolou até do dia seguinte.
Não há, porém, nenhum vestígio da comemoração. É que em um tempo sem celulares, um fotógrafo de Minas Gerais pediu “30 contos” para tirar um retrato. Era caro demais. Toninho resmungou: “Marmota”. E dispensou os serviços.
A fotografia do casal que hoje está na parede da sala de estar é recente. É daquelas pintadas, contratada ao agenciador desses espalhados pelo sertão à serviço de um fotógrafo cearenses. Foi montada à maneira antiga, com uma paisagem verde e fotos de quando Alaíde e Toninho nem eram casados:
“Ele parece um menininho véio, buchudo, de banda de camisa. O terno foi pintado. E eu era fortona” – brinca a contratante.
a criação
O pai de Alaíde era de Caculé, a 231 quilômetros de Encruzilhada. A mãe nasceu na comunidade do Batata, próxima à região do Cercadinho e do rio Pardo, na Água Preta. Os dois criaram a menina trabalhando na roça. Ela plantava arroz, cuidava da horta, pilava café, pisava milho para fazer canjica, torrava farinha, tirava goma, fazia beiju para vender.
Nesse tempo não tinha carro. Ia-se comerciar na sede do município. Os homens seguiam nos jegues, as mulheres, a pé, levavam bacias com beiju e farinha na cabeça.
“Era um tempo sem conforto. Não tinha esse negócio de Bolsa Família, esse negócio dos idosos aposentados. Não tinha condução para a mulhé ganhar neném. Nem médico para acompanhar até um fim. Agora tudo já tem” – compara.
Só o que não mudou foi a seca. A chuva falta, demora, mas um dia chega. Ano passado, choveu em novembro e dezembro. Deu para juntar “uma aguinha” nas cisternas que não existiam quando Alaíde era mocinha.
A jovem trabalhadeira teve 11 filhos de parto normal. Um morreu com três anos e outro não completou o primeiro aniversário. Os demais graças a Deus, estão vivos.
O mais velho dos sobreviventes está com 51 anos; mais novo, 27. Todos foram criados como os pais: sem conforto, trabalhando na roça e criando um ou outro bicho.
A vida difícil fez Alaíde se apegar ainda mais à terra. Mesmo depois que comprou uma casa em Encruzilhada, não quis se mudar.
choro de bezerra
Na beirinha do sistema antigo, não tinha escola pública na região. Os pais eram obrigados a pagar um professor que vinha de longe para as crianças aprenderem a ler e escrever.
O colégio improvisado funcionava em um cômodo de casa humilde para os lados do Café Bahia. As crianças tinham que levar um banquinho. Caso contrário, sentariam no chão.
Alaíde frequentou as aulas por duas semanas até que o pai determinou:
“Você não vai mais. Sua mãe já tem idade, está doente e você vai cuidar dela”.
A menina chorou “que nem uma bezerra desmamada”:
“Eu tinha vontade de estudar e aprender a costurar. Mas minha mãe estava sempre doente e meu pai mandava eu cuidar dela e da casa. Aí eu não ia para escola. Eu ia era chorar. Cresci falando que meus filhos não iam se criar assim analfabeto que nem eu. Todos eles estudaram, graças a Deus. Uns formaram, outros não, mas todos sabem uma coisinha. E depois que tudo estava criado, minha sobrinha me ensinou a assinar o nome” – relata.
Maria do Carmo e Cláudio foram os dois que fizeram faculdade. Ela é professora. Ele optou por trabalhar como guarda municipal. Dá plantão de 24 horas e descansa dois dias.
MOMENTOS DE ALEGRIA
Nem tudo era tristeza. No tempo antigo havia muitas festas, casamentos, dias de celebrar os Santos Reis e muitos outros. Qualquer um que soubesse tocar animava o povo. Dançava-se forró, baião e bolero, principalmente.
Alaíde lembra que o irmão e o primo eram dados à música. No fim das rezas, eles pegavam instrumentos e botavam o povo para ralar bucho. Chegaram a ser expulsos da casa de uma velha rezadeira que não gostava de forró.
“Joabes mais seu Paulo – diz Alaíde para a equipe de Meus Sertões -, tinha um pessoal que gostava de folia. Povo morador velho. A mulher tinha duas filhas que adoravam São João. No dia anterior, chamaram o padre para batizar uma das meninas e fizeram uma brincadeira. No outro dia, a festa do santo. Foi aí que meu irmão soube que ia ter a folia derradeira. E pediu para me levar. Amanhecemos três dias seguidos. O pessoal matava boi, vaca. E vinha gente de Vitória da Conquista. Era assim que acontecia”.
Outra boa lembrança tem a ver com a pinga que era produzida na região. Era ela quem regava os festejos.
O casal ressalta que não havia brigas, mas tudo foi mudando. Toninho recorda que a última brincadeira que participou, recém-casado, um conhecido dele furou outro com uma faca por causa de ciúmes.
o lambreu
Vida de homem também não era fácil. Seu Antônio trabalhava até tarde colhendo macaxeira. Chegava com cinco cargas e ia bater de roda. O galo cantando e ele ralando mandioca. E a mulher na beira dos fornos tirando goma.
A casa de farinha ainda existe. Foi comprada e trazida da casa do pai de Toninho. O que acabou foi a mandioca e a disposição do casal. Os filhos foram trabalhar fora e hoje são apenas os dois dentro de casa.
Lavrador aposentado, ex-vaqueiro e ex-garimpeiro, Antônio rodou por Macarani e Mata Verde, onde foi trabalhar com 13 anos. Ficou seis meses e voltou para Água Preta. Só quatro décadas e meia depois foi passear no município vizinho.
“Fui vaqueiro meu mesmo, o trem nosso, mas empregado dos outros nunca fui. Num lugar chamado Bandeira acampamos do outro lado do rio. Veio enchente e levou ponte e tudo. Ficamos oito dias esperado os caras botar os paus. Passamos de a pé e os animais na água” – conta.
O trabalho seguinte foi no garimpo, em uma lavra na Lagoa do Inocêncio. Não havia luz naquela época, o que iluminava a mina era candeeiro de gás. Toninho trabalhava dia e noite, procurando berilo, na tentativa de enricar. O querosene que iluminava a escuridão o fazia expelir um escarro preto.

Naquele tempo ainda se ganhava dinheiro com escória, que atualmente não vale nada. Naquele universo, as histórias de enriquecimento eram comuns. Só que nunca ninguém do lugar teve essa sorte. Ela só sorria para gente de fora, de Teófilo Otoni e de outras cidades mineiras.
Para encontrar a “pedra azul” era preciso cavar cada vez mais fundo em túneis bem apertados. Muitas vezes apenas arrancavam cristal.
Tão comum como os casos de garimpeiros que bamburravam eram as histórias de empobrecimento repentino. Toninho conta que conheceu um homem que juntou muitas pedras azuis. Vendia tudo e andava com dinheiro em sacos. Era tanta grana que um dia nem o banco aceitou fazer o depósito.
“Zé Galim morreu pobre. Não sei bem porquê. Dizem que gastava muito” – conta o ex-garimpeiro
Há outra explicação, nascida da sabedoria dos antigos e expressada por dona Alaíde:
“Pedra azul, leite e água não querem usura. Se trabalhar com usura não vai para frente. Tem essa ciência. Quem tem os olhos maiores do que os outros e trabalha com aquela gula não se dá bem. Não é assim que a banda toca”.
Toninho, por sua vez, diz que só achou pedra de valor quando trabalhou para uma empresa. Chegou a tirar tubos do tamanho de uma garrafa. Para ele mesmo guardou um lambreu (quartzo esfumaçado associado a um elemento químico).
“Era bonito quando novo. Tinha um pintado dentro, mas um moleque quebrou para ver o que era aquilo. Tirei ele há mais de 40 anos do solo. Achei quem pagasse 500 contos nele, mas não quis vender” – diz.
Para recuperar a beleza da pedra, gasta, sem valor e bem menor do que na época de sua descoberta, Alaíde a coloca de vez em quando no sabão em pó. E ela fica brilhando.
- Author Details
Jornalista, editor, professor e consultor, 63 anos. Suas reportagens ganharam prêmios de direitos humanos e de jornalismo investigativo.