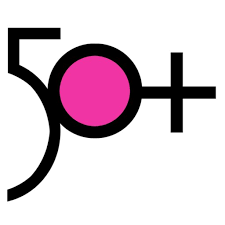No campo de batalha, a mais valente das soldadas transforma o perigo em uma sensação maravilhosa que só quem está dentro do fogo é capaz de sentir. Faíscas, chamas e explosões fazem Claudia Regina Damacena dos Santos ganhar mais coragem. Ela se joga no chão, levanta, deixa as bombas explodirem na mão. Os riscos a libertam da dureza dos dias em que não está vestida com a farda do Forte Humaitá, mostrando suas habilidades. É ela quem atrai um número maior de fãs no São João da cidade de Barra, na Bahia, às margens dos rios Grande e São Francisco.
Claudinha Perigo, como é conhecida, carrega no peito duas cruzes. Uma delas, presa a um cordão, mandou pintar nas cores verde e amarela, a mesma da Agremiação Folclórica Humaitá, fundada em 1892, e que serviu para unificar a tradição de “comer fogueira” com um evento histórico, a Guerra do Paraguai, onde seus conterrâneos lutaram.
A outra cruz está dentro, perto do coração, e é vermelha. Desde que viu pela primeira vez, pintada na caravela de uma camisa preta e branca se apaixonou a ponto de transpô-la para a alma. E mais tarde para o corpo, tatuando o escudo do Vasco na perna; para o vestuário e para casa, onde exibe lençóis, toalhas e o que mais lembrar o time carioca, que nunca viu jogar em um estádio e não consegue acompanhar na televisão porque o sinal de seu aparelho é fraco.

comer fogueira
Para entender melhor a saga de Claudinha é preciso voltar no tempo. O ex-presidente, melhor seria dizer comandante, e mestre fogueteiro do Humaitá, Francisco dos Santos, o Chiota, conta que no século XVIII, Barra celebrava a fartura das colheitas acendendo fogueiras, tradição criada pelos franceses e trazidas pelos portugueses para o Brasil .
Na cidade, os produtos da roça eram amarrados em galhos de árvores, fincados no chão. Em torno deles fazia-se uma fogueira. Quando o fogo derrubava o galho, os organizadores e seus familiares, avançavam para pegar milho, batata-doce, frutas e até dinheiro que estavam presos na ramada. Esta brincadeira era chamada de “comer fogueira”.
Ocorre que alguns espertos passaram a saquear os galhos antes das fogueiras derrubá-los. Desta forma passaram a “comer fogueira no cru”. Quando as famílias resolveram se defender, colocando homens com porretes para evitar o furto das prendas, os saqueadores criaram uma estratégia para burlar a segurança: dividiram-se em dois grupos. O primeiro soltava buscapés na direção dos protetores dos galhos, enquanto o segundo pegava os produtos.
Em 1890, o major-médico Augusto César Torres, barrense que participara da Guerra do Paraguai, assim como os 29 voluntários da pátria, 80 integrantes da Guarda Nacional lotados no município e dezenas de pessoas alistadas à força, testemunhou uma disputa na fogueira da influente família Araújo e comparou o fato a uma batalha:
“Tanto fogo assim, só se viu na tomada do Forte Curuzu”
Dois anos depois foi fundado o clube que ganhou o nome da fortificação. Foi a primeira agremiação a desfilar no dia 23 de junho para celebrar o que considera um marco de resistência histórica: as batalhas que dizimaram a população paraguaia.
Em 1894, surgiu o Humaitá. Em 1905, famílias tradicionais de Barra do Rio Grande criaram o Riachuelo. A quarta agremiação, Avaí, teve vida curta. Os clubes folclóricos adotaram as cores que teriam sido usadas nos uniformes das tropas brasileiras.
Assim como no futebol, surgiu uma imensa rivalidade por questões geográficas, familiares e classes sociais. A disputa para ver quem tem maior poder de fogo já fez muitos feridos e, pelo menos, um morto em todos estes anos. No entanto, Barra mantém a tradição
Perigo à vista
Claudinha era uma menina muito levada. Brigava muito e levava a melhor na maior parte das vezes. Ela conta que um dia estava no banheiro e a boneca de uma colega caiu no vaso sanitário. Sabendo que seria acusada de jogar o brinquedo na latrina, saiu correndo e pulou quatro cercas. Até hoje não sabe onde conseguiu impulso para a façanha. O pai da outra guria então colocou a alcunha que permanece até hoje.
“Perigo é só apelido. É porque eu atentava muito quando era criança, mas graças a Deus em coisa errada não me meto” – diz.
Ainda muito jovem passou a torcer pelo Humaitá, agremiação preferida de seus pais Alberto de Jesus dos Santos, seu Betinho, e Maria dos Anjos Damacena dos Santos, que moravam próximo do “forte”.
Durante o desfile, as agremiações são divididas em alas. Na frente, a linha de fogo. São de 40 a 120 soldados, vestidos com botas, casacas e calças de brim resistente, luvas de couro e capacetes. Eles carregam latas com, no máximo, 20 buscapés, que precisam ser reabastecidos durante o desfile. Ano passado, só o Humaitá soltou 3.200 fogos, feitos com limalha de ferro e pólvora – uma média de 44 explosões por soldado.
Os buscapés levam entre cinco e sete segundos soltando labaredas. Ao final, explodem. Ao contrário das espadas da cidade de Cruz das Almas, que são soltas no chão por seus cavaleiros, os fogos não podem sair das mãos dos soldados, em Barra, para evitar atingir o público.

Após a infantaria, vem a cavalaria (o Riachuelo por se referir a uma batalha naval não tem esta fileira), a fanfarra, a ala das moças representando as heroínas da guerra, pelotões de estudantes e escoteiros e carros alegóricos que homenageiam personagens e fatos históricos. Em 2017, o centenário do Mercado Municipal será lembrado.
Quando decidiu se alistar no Humaitá, há cerca de 25 anos, Claudinha Perigo, 43, optou pela cavalaria. Até que um dia não conseguiu encontrar um cavalo para alugar e passou para a linha de fogo. O Humaitá ganhou a soldada mais valente entre os 200 praças que abrem os desfiles das três agremiações. Perigo já foi chamada para o Curuzu, mas não aceitou integrar as fileiras do rival.
Mesmo com problemas sérios nos joelhos que precisam ser operados, ela se agacha, deita no chão e se movimenta muito, sempre segurando dois buscapés que soltam lâminas de fogo.
Chegou até a colocar um deles na boca, correndo o risco de se ferir gravemente e perder os dentes. Deixou de fazer isto porque a mãe ameaçou tirá-la da tropa. Embora jure só ter feito uma vez, a irmã Marivânia diz que ela se arriscou de novo, recentemente.
SALGADINHOS SEM ZOAÇÃO
Longe das selfies tiradas na linha de fogo e de convites para mostrar suas habilidades em datas como o Dia do Trabalho, Claudia vende salgadinhos, doces e sucos na porta do centenário Colégio Santa Eufrásia.
É fácil de ser reconhecida por ostentar dezenas de tatuagens, piercings, cordões e paixões. Não permite que zoem quando o assunto é o Humaitá e o Vasco, cujo escudo carrega tatuado na batata da perna. Também traz no corpo – barriga e mãos – as marcas de cinco queimaduras feitas pelos buscapés.
Seu sonho é ver um jogo em São Januário e fazer uma exibição com os fogos no estádio que serviu de palco para seus três maiores ídolos. Na ordem: Pedrinho, Romário e Edmundo. Pela equipe cruzmaltina deixa de lado a paciência que cultivou nos últimos anos e, às vezes, discute.
“Por causa do Vasco já me aborreci porque o povo começa a me perturbar. Eu fico de boa, não gosto de zoar ninguém, mas sou danada. Não me provoque”.

Em seguida, emenda como um chute certeiro:
“Sou vascaína ganhando ou perdendo; com o time na segunda, na terceira ou na quarta divisão”.
A ambulante está juntando dinheiro para fazer uma Cruz de Malta, embora a mãe diga que não há mais espaço no corpo de Claudinha para tatuagens.
Sua explicação para não torcer por times baianos é bem simples:
“Bahia e Vitória não fazem meu tipo”
O arsenal vascaíno inclui quatro camisas, duas toalhas de banho, lençol, dois copos e outras pequenas lembranças. Se a família a fez gostar do Humaitá, ela fez os pais, irmã, cunhado e sobrinho virarem cruzmaltinos.
“Sou fanática, Ave Maria. Quando o Vasco perdeu para o Palmeiras, fiquei retada. Quatro a zero não pode, moço. Só fui trabalhar porque não tinha jeito”.
Trabalho para Cláudia significa preparar coxinhas, rissoles, pães de queijo, bolo de chocolate, tortas e sucos durante a madrugada. Ir dormir às três horas da manhã e sair, pedalando sua bicicleta, às 6h30.
No caminho até o colégio Claudia para diversas vezes a fim de atender clientes. Essa batalha diária tem menos graça do que as que são travadas nas ruas de Barra e nos estádios, mas é dessa forma que consegue sustentar suas paixões.
- Author Details
Jornalista, editor, professor e consultor, 61 anos. Suas reportagens ganharam prêmios de direitos humanos e de jornalismo investigativo.