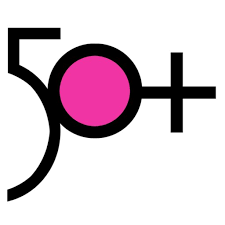Tempo bom aquele quando me sentava na calçada da casa da minha vó ou das amigas dela para ouvir causos do passado que se misturavam com o presente. Era, sempre, por volta das três da tarde até a boquinha da noite, quando o sol começava a se despedir no horizonte. De lá, dava para ver, na primavera, as pétalas amarelas dos pés de Ipê.
Menino curioso, com hábito de perguntar, recebi o apelido de padre. É outra história. O que aprendi mesmo, quando me juntava a minha vó materna, Selma, e as suas amigas, Zefinha e Luiza, foi ouvir com atenção um tempo outro em que elas se vestiam de careta, no carnaval, para brincar nas ruas de Santa Luzia do Itanhy (SE) ou de um famoso pé de caju mal-assombrado que não existe mais ou das brincadeiras de pega a pega na rua.
Também relatavam os dias tristes e a inventividade para seguir a vida diante da pobreza. Minha avó desfiava da memória os tempos de menina, quando perdeu a mãe aos sete anos e as desventuras de ser criada por uma madrasta. Num mesmo instante, contava um fato curioso ou algo com duplo sentido. Todos caiam na gargalhada.
Ali, também, meio que funcionava como um consultório informal. Ao saber de que alguém próximo sentia alguma dor ou ia se operar, surgiam da boca daquelas mulheres receitas populares. Um chá de boldo, um banho de erva de canudinho. Ou se recomendava a rezadeira para afastar o olho ruim do corpo.
Havia histórias também dos tempos de engenho e de uma escola que existia para os funcionários da usina e um fato muito triste que mexeu comigo: o marido que matou a mulher na presença dos filhos.
Na rua Augusto Franco, havia uma comunhão, um sentimento de família, em meio a sobrenomes distintos. Havia partilha de alimentos na falta. E havia uma ciranda de afetos. Ali, acredito que aprendi o que há de mais valioso: a escuta atenta.
Uma ciranda que não terminava na porta das casas das mulheres, continuava no rio e nas matas.
- Author Details