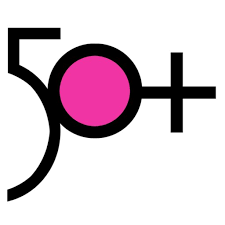O sotaque carregado, os erres evidenciados era regra: quem voltasse de São Paulo pro Rudela – a passeio ou em definitivo, mesmo que por lá tivesse passado uns poucos meses e morasse no interior caipira de Tonico e Tinoco, apresentava um tom de voz diferente, à paulista.
Os nomes dos conterrâneos sempre eram precedidos por artigos: o fulano, a fulana. A voz mais grave, anasalada. Alguns, dizem, iam além: desconheciam os amigos – não recordavam nomes, fingiam não recordar de fatos recentes ou de quando criança.
Se tornavam celebridades instantâneas, visitados por muitas pessoas, cumprimentadas nas ruas. Os conterrâneos, curiosos, que saber o que fizera em terras paulistas. Não eram poucos os que exageravam nas suas conquistas. Mentiam, mesmo.
Dizem que Janjota protagonizou uma história que atravessou gerações.
Há quem diga que tudo foi invenção de Antônio de Euclides, um gozador nato, que se especializou em perder o amigo, mas inventava a história – neste caso, um causo. Janjota nega tudo.
Depois dos abraços da chegada, das conversas com parentes e amigos, de desarrumar a mala e entregar as lembranças – quando as trazia, chegava a hora do almoço. Peixe sempre era o prato do dia – carne vermelha era presença rara nas panelas de barro feitas por Noêmia. Sempre tinha muitas pessoas à mesa, por ser dia de festa.
Mas naquele dia na mesa tinha uma espécie que despertou atenção especial do recém-chegado: o cari, peixe de aparência jurássica, mas muito popular nas panelas dos rudelenses.
E não é que o ‘paulista’ o desconheceu o peixe que tanto comeu. “O que é isso?”, perguntou ao pai, João Luiz, que, espantado, respondeu ao filho. “É cari, não se lembra mais não, é? Janjota se lembrou do peixe que muitas e muitas vezes comeu a carne, chupou o casco duro e bebeu generosas tigelas do seu caldo saboroso. Mas…
“Ihh, me lembrei. É o caria”. Caria? Os presentes tomaram um susto daqueles, mas nada disseram. Nem riram. Mas caria? Pensaram que Janjota estava brincando.
Uma gamela, num dos cantos da mesa, estava cheia de batata doce quente, visto que a fumaça subia. E o jovem não reconheceu o tubérculo. Perguntou como se chamava aquela raiz.
“É batata (naquele tempo a batatinha dita inglesa era desconhecida na região)”, responderam os amigos, mais espantados ainda. Alguns já não conseguiam segurar a gaitada.
“Lembrei: é a batatainha”, disse Janjota para uma plateia que já estava com os olhos arregalado, assombrada, devido ao esquecimento do parente com comidas tão presentes à mesa de todos. Mas, batatainha?
Depois de pegar umas postas de cari cozido, colocar farinha, Janjota pediu um pedaço de batata, que começou a comer com a casca. Alguém o orientou a tirar a casca. “Não, assim é melhor, que não da queima”. Ninguém conseguiu segurar a gargalhada. O caboco tava se amostrando.
Janjota fez ouvidos de moco e tratou de comer a tigela de estanho que estava cheia de cari e batata – com a casca, claro. Nunca mais voltou para São Paulo. Casou, teve filhos, netos, bisnetos e trinetos. Oitentão, vive na aldeia Tuxá. Quando tem, come postas de cari e batata. Rejeita caria e batatainha.
- Author Details
Florestano de nascimento, coração rodelense e alma feirense, admirador de forró, MPB, autores nordestinos e músicas dos anos 80, Batista Cruz Arfer trocou a administração de empresas pelo jornalismo há 27 anos. O gosto pela reportagem alimenta diariamente a paixão que nutre pela profissão que abraçou, incentivado pelo irmão Anchieta Nery, também jornalista e professor universitário. Descende dos tuxás, tribo ribeirinha do São Francisco, torce pelo Verde e pelo Bahia.