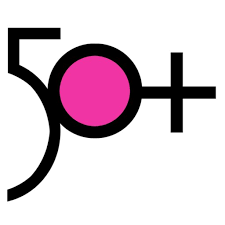Gedalva Neres da Paz, a terceira diretora da escola Malê Debalê (2007-2009), nunca teve dificuldade para se entender como negra. Natural de uma família de pretos retintos, cujos componentes só passaram a se miscigenar quando ela era adolescente, a menina cresceu compreendendo a sua origem e vivenciando dificuldades por causa da cor de sua pele e de seus cabelos crespos
Integrante de grupos jovens da Igreja Católica, de uma associação de moradores e do Ginga, grupo ecumênico que tratava sobre questões étnico raciais, a jovem foi bem acolhida pelo movimento negro. E foi estudando cada vez mais para entender melhor as questões relacionadas à África e à consciência negra.
Em casa, a autoestima dela foi sempre incentivada. O que, juntamente com a literatura, lhe estimulou a aplicar cursos de formação para pessoas negras em uma associação de moradores. Todo conhecimento e experiência adquiridos também foram levados para as salas de aula, mesmo antes da lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira em 2003.
“Eu sou negra, meus alunos eram negros, então a gente não tinha como não falar sobre um assunto que era a pauta cotidiana” – conta.
A professora, que hoje atua como coordenadora pedagógica, se especializou em psicopedagogia junguiana e em análise corporal bioenergética, além de concluir o mestrado em desenho, cultura e interatividade, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e doutorado em difusão do conhecimento, na Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Nas aulas de terapia corporal e psicopedagogia, Gedalva era a única aluna negra. Quando passou a atender em consultório, fazia um preço mais em conta para pessoas da periferia, pois acreditava que elas não podiam trabalhar as dores “apenas no dominó, na cachaça e na droga”.

“Eu levei muita gente e incentivei muitas pessoas a buscarem essa formação porque nós precisamos desse trato. O racismo dói demais, maltrata muito e faz a gente se sentir incapaz” – constata.
Como consequência desse trabalho, a psicopedagoga ajudou mulheres a se libertarem da violência doméstica. Também mostrou que podiam ir para a faculdade, pois muitas entendiam que não era um espaço para elas.
PRECONCEITO
A promulgação da lei 10.639, em 2003, deu um respaldo para a professora continuar o trabalho que desenvolvia. Ela lembrou que quando selecionou a obra da professora Ana Célia Silva, pioneira no estudo do racismo nos livros didáticos, houve quem não concordasse com a escolha.
“Uma colega falou para mim que não adiantava pegar um livro muito sofisticado porque as crianças negras tinham um QI mais baixo” – revela.
Gedalva está em processo de aposentadoria. Ela diz que sempre houve preconceito nas escolas, principalmente se você falar ou mostrar uma música sobre Nanã e Oxum, as professoras protestantes dizem que o candomblé está sendo levado para dentro da escola.
“Tentamos combater isso com leitura, com literatura e informação. Quando eu comecei a dar aulas, há 30 anos, havia bem menos livros para crianças e muito menos sobre a questão do racismo, mas hoje esse panorama mudou” – ressalta.
Contribuíram para isso instituições como o Omi Dúdù: Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira [1] e o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (Ceafro). Assim como os blocos afros Ilê Ayê e Malê Debalê, essas entidades ofereciam curso de formação para professores.
A diminuta oferta de publicações infantis com personagens negros motivou professoras a se lançarem no universo da literatura. Gedalva da Paz foi uma delas. Uma de suas obras mais conhecidas é “Cabelo Belo”, que mostra como essa parte do corpo influencia no desenvolvimento e na autoestima das crianças, além de fazer com que elas repensem questões como a ancestralidade e os padrões de beleza impostos por uma sociedade eurocêntrica.

Já em “Maria Eduarda Agotiné”, a professora conta a história de uma menina preta, empoderada, que tem orgulho de sua história. O livro é um misto de experiências pessoais em sala de aula e de tributo às mulheres negras. O sobrenome da protagonista, que questiona a falta de bonecas pretas na escola, é uma homenagem à rainha do Daomé, hoje Benin, cujo legado é celebrado no culto do Tambor de Mina, religião afro-brasileira originada em Gana e praticada, principalmente, no Maranhão.
FORMAÇÃO NAS UNIVERSIDADES
A psicopedagoga não poupa críticas às faculdades de pedagogia, que se colocam como se a lei 10.639 fossem responsabilidade apenas dos ensinos básico e fundamental. Segundo ela, está explícito que tudo tem de começar na formação dos professores. Ela ressalta que muitas universidades como a UFBA e a Uneb (Universidade do Estado da Bahia) cumprem esse papel, mas nem todas seguem o que diz a legislação.
A despeito disso, a pesquisa “As práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva de Lei 10.639/2003: desafios para a política educacional e indagações para a pesquisa” [2], realizada pela pedagoga e doutora em antropologia social Nilma Lino Gomes e pelo doutor em educação Rodrigo Ednilson de Jesus, constatou o seguinte:
” Os conhecimentos dos próprios docentes sobre as relações étnico-raciais e sobre História da África ainda são superficiais, cheios de estereótipos e por vezes confusos. O grupo de discussão com os/as estudantes foi revelador de tal situação. Os/as estudantes demonstraram de maneira geral que o trabalho envolvendo a Educação das Relações Étnico-Raciais tem conseguido alertá-los, sensibilizá-los, informá-los sobre a dimensão ética do racismo, do preconceito e da discriminação racial, mas lhes oferece pouco conhecimento conceitual sobre a África e sua inter-relação com as questões afro-brasileiras.”
Gedalva acrescenta que os trabalhos de destaques feitos em escolas soteropolitanas são realizados por militantes, que estão se aposentando:
“Poucas vezes a escola como um todo se envolve” – afirma.
Outras críticas são dirigidas à falta cumprimento dos ciclos do sistema educacional. Gedalva constatou que muitos profissionais não seguem o que está determinado:
“O menino fica três anos na educação infantil e mais um período no ensino fundamental. Ele tem seis anos de escola e não foi alfabetizado, não sabe nem fazer o nome dele. Isso é o que me deixa mais revoltada” – desaprova.
A pedagoga considera os ciclos perfeitos. Eles partem do lugar onde a criança parou no ano anterior, “mas ninguém se liga nisso porque dá muito trabalho”:
“Quem faz isso tem de partir de 30 caminhos diferentes para atender uma turma porque cada aluno atingiu uma etapa. Dá para fazer isso? Dá. Eu fiz esse trabalho, sem falsa modéstia, maravilhoso, usando teatro, música, dança, poemas, apresentações, leitura. Aí o pessoal diz que não vale o esforço porque as crianças não aprendem. Para aprender basta alguém ensinar” – explica.
Ela observa que há ainda um outro componente maléfico: a presença de traficantes de drogas nas escolas. Segundo Gedalva, é o tráfico quem manda e isto faz com que haja crianças extremamente mal criadas e professoras com medo.
“Hoje quando você sai da escola ela encontra uma fileira de gente esperando para perguntar porque você reclamou com o aluno ou a aluna. Várias professoras são trocadas de unidade porque chamou a atenção ou falou alto com um estudante. E o pessoal foi lá para ameaçá-la. Então a professora para não viver isso sai de tarde com o mesmo batom que chegou de manhã” – relata.
Na visão da coordenadora pedagógica é preciso mudar esse quadro para evitar que as crianças terminem o ensino fundamental analfabetas e para que elas deixem de ser criadas pelo celular. Uma das alternativas é trabalhar com a formação dos pais e transformá-los em parceiros.
SAÚDE MENTAL
Já durante a formação com os alunos, na visão de Gedalva, é necessário se preocupar com a saúde mental e o corpo em geral. Portanto, temas como prevenção e controle da natalidade, doenças sexuais, doenças femininas eram tratadas. Além disso, quando diretora, ela fazia convênios com dentistas para que os estudantes tratassem da saúde bucal.
“É preciso cuidar do ser como uma totalidade porque senão ele é deixado sem saúde, sem escola, sem medicamentos, sem direitos básicos” – acrescenta.
Também é importante que as crianças tenham lazer. Sendo assim, a realização de parceria com as Ganhadeiras de Itapuã, que se apresentavam para os alunos, e com a Casa da Música foram concretizados.
Quando a lei 10.639 foi sancionada, Gedalva Neres estava na coordenação da secretaria de educação. As maiores dificuldades para implantação da nova legislação foi a resistência de diversos funcionários e professoras, que acusavam a equipe de Olívia Santana [3] de estar “enegrecendo a secretaria” e de estar transformando as salas de aula em terreiros de candomblé.
Por fim, a pedagoga avalia que o processo de implementação da legislação que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira não fracassou. Ela o define como “bom” e atribui a ele o fato de a situação nas escolas não ser pior. Foi a partir dele, segundo Gedalva, que foram feitos mapeamentos diversos, pesquisas sobre a questão negra, estudos, dissertações, teses e livros.
“A gente encontra muitos profissionais dedicados, pena que eles estão dispersos” – conclui.
–*–*–
Notas de pé de página
[1] O Omi-Dúdù desenvolve ações para valorização da comunidade negra. Para tanto, articula parcerias com vários segmentos do movimento negro em âmbito nacional e atua com a juventude por meio da formação cultural e profissional. A organização oferece cursos, palestras, oficinas, encontros e seminários, promove lançamentos de livros, vídeos de valorização da cultura negra e faz campanha permanente contra a violência policial e de grupos de extermínio.
[2] Pesquisa apoiada e financiada pelo Ministério da Educação e pela representação da Unesco no Brasil. O resumo do resultado foi publicado na Educar em Revista (Curitiba – PR), número 47, do trimestre janeiro/março de 2013, páginas 19 a 33,
[3] Olívia era a secretária municipal de Educação na época.
–*–*–
Legenda da foto principal: Gedalva da Paz, ex-diretora da escola de Malê de Balê. Foto: Olga Leiria/Meus Sertões
–*–*–
Para ler a série completa
PARTE I
A Escola Municipal Malê Debalê: auge e declínio Adaptações feita para o bloco virar escola A primeira diretora da Escola Malê Josélio Araújo: “Consegui transformar lixo em luxo” Editorial: Sem transparência a verdade não aparece
PARTE II
Prefeito de Salvador não cumpre promessa feita ao MalêObra feita em período eleitoral'Hoje a gente não está dando conta nem de alfabetizar'
PARTE III
Saudades da escola A diretora mais longeva da Escola Malê Debalê
- Author Details
Jornalista, editor, professor e consultor, 61 anos. Suas reportagens ganharam prêmios de direitos humanos e de jornalismo investigativo.