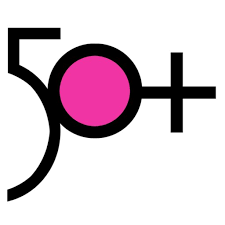Com inserção na política, na cultura ou na religião, grupos com variadas características assumiram propostas educacionais e criaram metodologias de ensino
Cleidiana Ramos
A inscrição, em latim, “Surge nec mergitur”, que em tradução para o português significa “Apareça e não se esconda”, foi usada na bandeira concebida para representar a República Bahiense. Este era o projeto da Revolta dos Búzios, iniciada em 12 de agosto de 1798 e que ficou também conhecida como Conjuração Baiana e Revolta dos Alfaiates.
Inspirada nos ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade da Revolução Francesa, a proposta de Búzios ia mais além do que a Inconfidência Mineira, pois assegurava a abolição e tinha como líderes mulheres e homens sobretudo livres. O manifesto, que foi afixado especialmente em portas de igrejas da capital baiana, proclamava: “Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa Liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais”.
É uma proposta de revolta, mas com um projeto de Estado, inclusive republicano. Analisando este e outros movimentos parecidos, o advogado e professor Samuel Vida, que pesquisa o constitucionalismo negro, afirma que as várias manifestações de instituições negras sempre apresentaram uma solução ou projeto para combater a desigualdade contra a qual protestavam. A Lei 10.639/2003, que está completando 20 anos e estabelece o ensino de história da África e culturas afro-brasileiras, é um exemplo dessa constatação.
A legislação foi um dos muitos desdobramentos das batalhas históricas contra o racismo e suas consequências. Em 2001 foi realizada pela Organização das Nações Unidades (ONU), em Durban, na África do Sul, a III Conferência contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância.
Com questões difíceis e complexas, especialmente em relação aos debates sobre os confrontos no Oriente Médio e Faixa de Gaza, a conferência encontrou resistência sobre definições de racismo e etnicidade na forte oposição dos EUA e Israel, por conta da questão palestina e outras. Mas, para o Brasil, a assembleia foi um marco sobretudo para o debate relacionado à Educação por meio das ações afirmativas, especialmente as cotas para estudantes negras e negros nas universidades.

Foi partir das decisões de Durban que a criação de mecanismos de reparação para a população negra alcançou a necessidade de envolver o Estado brasileiro nesse processo. Reparar é tentar corrigir os danos, especialmente históricos. Esse debate continua intenso e complexo, pois no senso comum ainda circulam os discursos de negação do racismo, como “democracia racial” e “racismo reverso contra brancos”, especialmente no ambiente hostil de redes sociais.
Nos ambientes acadêmicos e no campo educacional, essa discussão tem ocorrido de forma mais qualificada e permitido avanços como o reconhecimento de que é preciso, desde a educação básico, estabelecer bases de ensino da centralidade da herança africana na formação cultural brasileira e de como o racismo continua a estabelecer obstáculos para o acesso a direitos constitucionais básicos à população negra.
SEM PROPOSTA DE INCLUSÃO
Uma dessas reflexões tem como base uma análise do que foi a Lei Áurea. A legislação que pôs fim à escravidão ainda no período monárquico, assinada pela princesa Isabel de Orleans e Bragança, em 13 de maio de 1888, tem apenas dois parágrafos. O primeiro diz que a escravidão deixa de existir no país a partir daquela data. O segundo afirma que estão revogadas todas as disposições em contrário.
A legislação é omissa sobre as formas em que as pessoas que até o dia anterior eram consideradas “mercadorias” e, portanto, sem nenhum tipo de prerrogativas humanas, principalmente a liberdade de ir e vir, passariam agora a integrar uma sociedade que as tinham na condição de “objetos” por quase 300 anos. Não se disse, por exemplo, onde as mulheres e homens tornados livres iam morar. No sistema econômico escravocrata e que estava em todos os segmentos da vida brasileira – nas cidades os escravos e libertos é que faziam todos os tipos de trabalhos e serviços básicos, como transporte, venda de comida, confecção de sapatos e outras atividades – o dono era o provedor da habitação e alimentação, mesmo que em condições terríveis.
Agora, estava por sua própria conta quem vinha da realidade de não dispor sequer de efetivar decisões sobre a própria vida por impedimento legal. Se não houve ações para resolver questões imediatas de sobrevivência, muito menos se deu atenção à inclusão de crianças e jovens negros tornados livres em um sistema de educação que já era restrito e apenas voltado para as elites.

No livro “Reinventando a educação”, o jornalista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Muniz Sodré mostra as bases de uma concepção educacional no Brasil em que a formação técnica, ou seja, manual, historicamente no país foi associada a algo menor em relação ao ensino acadêmico. Esse modelo educacional foi também tratado historicamente no âmbito da filantropia por meio de associações voltadas para a educação, mas de preparação para o trabalho, do “ensinar uma profissão”. Ainda hoje, parte considerável do contingente das chamadas escolas técnicas agora incorporadas ao sistema federal de educação por meio dos Institutos Federais (Ifes), é formada por pretos e pardos.
Em Salvador, por exemplo, com a chegada do Polo Petroquímico, em 1978, a mão de obra das empresas veio da então Escola Técnica, que depois se chamou Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e, atualmente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Isso promoveu uma pequena mas importante ascensão de trabalhadoras e trabalhadores negros como havia ocorrido no início do século com os estivadores, por exemplo. Ser funcionário do Polo ou da Petrobras passou a ser o investimento de gerações de famílias negras para que algum membro conseguisse ingressar no ensino técnico.
NOVO REGIME, MAS TUDO IGUAL
No ano seguinte à abolição veio à República. Nenhuma mudança foi feita para inclusão de pessoas negras no Estado brasileiro. Aliás, um dos principais conflitos do período, a Guerra de Canudos (1896-1897), teve como base o desconhecimento sobre os problemas do país em suas regiões distantes dos espaços de poder, como o Rio de Janeiro, a então capital brasileira.
Chamados de monarquistas, os seguidores de Antônio Conselheiro (1830-1897) formavam um caleidoscópio de gente que nem existia para o Estado. No Arraial de Canudos estavam o contingente de pele escura formado por descendentes de africanos, e indígenas, que na distopia relacionada ao problema da “raça” no centro das discussões de quase tudo no Brasil, foram classificados como “sertanejos”.
Canudos é um dos muitos exemplos das buscas por conta própria para resolver os problemas de quem sempre esteve à margem do que é considerado “cidadania” ou estado brasileiro: pobres, pretos, posseiros que mais tarde passaram a ser colocados nas categorias mais contemporâneas como sem-terra, quilombolas e indígenas, que precisaram incorporar, à sua antiga luta de manter um território que era seu, o direito de existir.
No discurso da quase totalidade do século XX, disseminado nas várias instâncias sociais do Brasil, sobretudo nos espaços de poder, os indígenas faziam parte do passado com exceções para partes da Amazônia. Enquanto isso, em Canudos, por exemplo, grupos indígenas combateram ao lado dos chamados conselheiristas.
Mas, como dizem lemas de diversos segmentos dos movimentos negros, lutar é verbo conjugado desde os movimentos de quilombos, dos quais o mais conhecido é Palmares. Não à toa, praticamente todas as instituições que encaparam a luta antirracista incluíram a alfabetização e posterior entrada na educação formal como bandeiras.

Em “O movimento negro educador”, a doutora em ciências sociais e pedagoga Nilma Lino Gomes traça uma linha do tempo sobre como os movimentos voltados para a emancipação da população negra incorpororaram a educação como estratégia, inclusive criando metodologias próprias. Da Frente Negra Brasileira (1931), passando pelo Teatro Experimental do Negro (1944), pelo bloco afro Ilê Aiyê (1974), pelo Movimento Negro Unificado (MNU – 1978), dentre outros, as ações de educação têm destaque por meio de cursos de alfabetização, pesquisa e desenvolvimento de material didático para difundir temas como a herança cultural africana.
–*–*–
Legenda da foto principal: Bandeira dos revoltosos que pretendiam criar a República Bahiense. Foto: Manu Dias/Governo do Estado/Divulgação
–*–*–
A pauta desta série de reportagens foi selecionada pelo 5º Edital de Jornalismo de Educação, uma iniciativa da Jeduca e Fundação Itaú.
–*–*–
Leia a série completa
PARTE I
A lei fracassou? As estratégias dos movimentos negros O protagonismo dos terreiros e dos blocos afro Yabás em movimento As yabás I - Mãe Hildelice dos Santos
PARTE II
A escola do portão verde As yabás II – Ana Célia da Silva A hora da verdade O longo e desgastante trâmite no Congresso
PARTE III
Assuntos sobre negros importam A resistência de Lázaro Formação continuada na Uneb Escola reflete filosofia africana As yabás III – Vanda Machado O projeto pedagógico Yrê Aió
PARTE IV – FINAL
'Nenhum secretário teve a temática racial como prioridade' O silêncio absurdo de Thiago Remando contra a maré Pesquisa mostra a realidade brasileira Olívia e os novos desafios As yabás IV - Jacilene Nascimento
- Author Details
Cleidiana Ramos é jornalista, mestra em estudos étnicos e africanos e doutora em antropologia. Professora visitante na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), campus Conceição do Coité, produz a coluna semanal Memória, no jornal A Tarde. É especialista em religiões afro-brasileiras e católica. Outro tema que domina são as festas populares baianas.