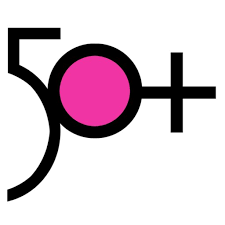Mães de santo, preocupadas com o ócio das crianças das comunidades, criaram diferentes tipos de escolas. Associações culturais e carnavalescas seguiram o exemplo
Cleidiana Ramos
Os terreiros de candomblé também assumiram protagonismo nesse reconhecimento de que a educação era o caminho para combater as consequências da exclusão com base racista. Em 1910 foi fundado, em Salvador, o Ilê Axé Opô Afonjá, no bairro do Cabula. De tradição ketu (ou seja, vinculado às tradições de povos que vieram, sobretudo da região da atual Nigéria), o terreiro, reconhecido pelo Iphan como patrimônio brasileiro, teve como primeira liderança a sua fundadora, Eugênia Anna dos Santos (1869-1938), conhecida como Mãe Aninha.
Mãe Aninha estava vinculada anteriormente ao Ilê Axé Iya Nassô Oká. A Casa Branca do Engenho Velho da Federação, como essa comunidade religiosa é mais conhecida, foi o primeiro terreiro oficializado pelo Iphan como patrimônio brasileiro, em 1984, em uma ação que se transformou em polêmica no próprio âmbito da instituição. Até então os bens culturais materiais do Brasil eram os de “pedra e cal” considerados antigos e, em sua maioria, templos católicos e sobrados, ou seja, a herança europeia.
O reconhecimento da Casa Branca como patrimônio brasileiro abriu caminho para os debates que estabeleceram o chamado patrimônio imaterial, afinal o que tornou a Casa Branca especial não foram apenas as construções físicas, mas a importância de uma comunidade que é considerada a mais antiga de tradição ketu do Brasil e uma das protagonistas da chamada institucionalização do candomblé a partir da segunda metade do século XIX.
Após uma disputa sucessória na Casa Branca em que foi preterida, Mãe Aninha, descendente direta de africanos do grupo étnico grunsi e consagrada ao orixá Xangô, o senhor da Justiça, fundou o Afonjá. Ela é a primeira ialorixá – título que se adota nos terreiros ketu quando a liderança é de uma mulher – a ficar em evidência em um ambiente intelectual. Um texto seu sobre comida sagrada foi apresentado no II Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador, em 1937. O destaque maior foi para a presença do etnólogo e escritor Édison Carneiro (1912-1972) e do babalaô Martiniano Eliseu do Bonfim (1859-1943) na organização do evento.

O legado de Mãe Aninha vai muito além da participação em um evento acadêmico. Frases atribuídas a ela inspiram reflexões sobre a participação negra na formação do que somos como povo. Uma delas foi ter chamado Salvador de “Roma Negra”, em referência à interação entre as várias culturas de civilizações africanas de três grandes regiões da chamada África Negra: Angola (território de origem dos bantos); Benim (região dos jeje) e Nigéria (terra dos povos nagô) [1].
Em relação à educação, há outra frase de Mãe Aninha que se tornou mais famosa: “Todo negro com anel no dedo tem que colocá-lo aos pés de Xangô”. O contexto desta citação costuma ser explicado pela dificuldade que ela sabia existir para que as suas filhas e filhos de santo acessassem o sistema educacional.
AS ESCOLAS BAIANAS EM 1912
Uma reportagem publicada na edição do jornal A Tarde, de 21 de outubro de 1912, dá essa medida:
““Dirigimo-nos à rua do Saldanha n.18, onde funciona uma escola municipal do sexo masculino. Seguimos ladeira abaixo e deparamos o número indicado no umbral de uma casa de dois andares, dessas muitas dos tempos coloniaes, às quais deve a Bahia, vista de longe, o cognome de presepio – que pode ser muito poético, muito meigo, mas que significa um retrocesso de mil novecentos e doze annos- uma dessas casas de architectura bisonha, sem esthetica, mal dividida, sem luz, sem ventilação, húmidas, cheirando a bafio, moradia predilecta das aranhas caranguejeiras e dos morcegos (sic)”. (Jornal A Tarde, capa).
O texto, que iniciou uma campanha do jornal em defesa da escola pública, relatou que 59 dos 113 alunos matriculados frequentavam a escola. O professor contou que muitos desses alunos tinham apenas uma peça de roupa e, quando essa não era lavada, eles não tinham como sair de casa. O mobiliário considerado adequado só atendia 30 crianças. As outras sentavam-se em caixotes que eram utilizados como embalagens de vasilhas de gás ou velas. O acesso à sala de aula ocorria após a subida de uma escada com 39 degraus. O material didático não era atualizado há 50 anos e as crianças bebiam água de um pote velho retirada com um caneco de ferro esmaltado.
A campanha seguiu com outras reportagens. A publicada em 30 de outubro do mesmo ano mostrou que Salvador tem um total de 6.665 alunos matriculados nas escolas públicas. As meninas formavam a maioria (3.802 contra 2.863 meninos) do público estudantil. Mas a frequência média era de 4.037 alunos em uma cidade na época com 300 mil habitantes.
Com a Proclamação da República, estados e municípios tiveram que assumir a educação. O governo federal ficou apenas com a responsabilidade de garantir o ensino público da capital do país, na época o Rio de Janeiro. O município de Salvador encontrava dificuldades para manter a infraestrutura desde o mobiliário até a remuneração precária para os professores. Na cidade, por exemplo, tinham 107 escolas funcionando quando era necessário ter abertas 442, considerando-se 50 alunos para cada uma.
As instituições escolares em 1912 funcionavam, em sua maioria, com a divisão por gênero: 51 era apenas para meninas; 36 para meninos e 20 no sistema misto. As denúncias do jornal ao menos resultaram em uma pequena vitória. Segundo a edição de 4 de dezembro de 1912, o intendente, cargo equivalente ao de prefeito hoje, anunciou a construção de 40 grupos escolares.
Em uma cidade de maioria negra e com graves problemas, como a sempre citada “carestia” (encarecimento do custo de vida e/ou escassez de alimentos), manter uma criança na escola não era fácil. No início do século XX, com sistema de transporte público precário, também era uma tribulação chegar a São Gonçalo do Retiro, a parte do bairro do Cabula onde o Afonjá está situado até hoje.
Como os ritos exigiam a presença de membros da comunidade religiosa no terreiro, Mãe Aninha ficava angustiada com a quantidade de crianças que ficavam na roça, sem acesso à escola, de acordo com uma de suas sucessoras, a quinta ialorixá do Afonjá, Stella de Azevedo Santos, conhecida como Mãe Stella de Oxóssi. Esse foi um dos principais motivos para que Mãe Stella, ao assumir o terreiro no final da década de 1970, conseguisse instalar no local a escola Eugênia Anna dos Santos.
Hoje pertencente à rede municipal de Educação, a unidade é uma das referências na aplicação da Lei 10.639/2003 porque já ensinava história e cultura afro-brasileiras antes da legislação entrar em vigor. Outro motivo para o sucesso da iniciativa é o projeto Ire Ayo. Desenvolvido pela doutora em Educação Vanda Machado, ele parte de uma experiência muito comum nas comunidades religiosas, os ensinamentos das mais diversas lições a partir de uma história – especialmente os itans, relatos míticos usados na transmissão da filosofia e cosmogonia nas comunidades nagô.
Um exemplo de itan: a exclusão das mulheres do conselho de orixás para governar o mundo, no início dos tempos, quase resultou na destruição do planeta. Até que os homens perceberam e levaram o convite a Oxum, senhora das águas doces, para passar a integrá-lo. Essa história permite ensinar geografia, a partir da origem das divindades envolvidas na história; meio-ambiente, afinal sem água não tem vida; e principalmente o equilíbro de vários grupos, inclusive com representação de gênero, para que uma comunidade encontre a harmonia.
“Acho que a grande contribuição do Ire Ayo foi ter construído uma experiência que partiu de ouvir a própria comunidade religiosa e também de olhar para as crianças como parte da construção do projeto. Hoje, por exemplo, minha maior preocupação nesse campo é com a saúde mental, pois o racismo nos tira logo de saída esse equilíbrio”, analisa Vanda Machado.
LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA

Foi observando as crianças ociosas nas imediações do Terreiro Jitolu, na Rua do Curuzu, Liberdade, que a doné – título para lideranças femininas na tradição jeje – Hilda Santos resolveu que ia dar um jeito para ver aquelas meninas e aqueles meninos aprendendo a ler e escrever. A educação infantil ainda não havia sido incorporada ao sistema público de educação na década de 1980.
A escola foi montada como uma “banca”, ou seja, uma experiência não formal. As soluções foram todas domésticas: o barracão do terreiro, uma construção que faz parte ainda hoje das residências das famílias, como é muito comum no candomblé, se transformou em sala de aula, e duas das suas filhas, Hildelice Benta dos Santos e Ildemaria Santos, se tornaram as professoras.
“A gente colocava um lençol para dividir as duas turmas e logo o barracão já estava cheio de alunos”, conta a atual doné do Jitolu, Mãe Hildelice. A escola informal foi crescendo a ponto de ocupar em dias que não tinham ritos o espaço do quintal da casa.
Inovar é uma marca da família. Foi também no barracão da comunidade religiosa que aconteceram as primeiras reuniões que resultaram na fundação do Ilê Aiyê. Com o lema “Negro é lindo”, o bloco foi fundado em 1974 e estreou no Carnaval de Salvador em fevereiro do ano seguinte, já causando grande repercussão.
O jornal A Tarde o classificou, em título de uma matéria na edição de fevereiro de 1975 de “bloco racista e nota destoante”. O texto identificou aproximação com o movimento panafricanista e discurso contra o racismo. Falar desse tema era extremamente perigoso no contexto de ditadura militar em que tudo podia soar como desobediência à Lei de Segurança Nacional.
Foi por isso que Mãe Hilda resolveu acompanhar o desfile porque temia que seus filhos, inclusive o presidente Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê, acabassem na cadeia. Essa presença da ialorixá cresceu com a própria trajetória do Ilê Aiyê. Ela participava desde o rito de saída, celebrado no sábado de Carnaval da sacada da casa em cujas dependências fica o terreiro, até a instalação de uma cadeira no trio elétrico, que passou a ser seu trono de liderança espiritual do bloco até quando sua mobilidade ficou comprometida.
Além disso, Mãe Hilda passou a “cobrar” que todo mundo da família se dedicasse aos estudos. Mãe Hildelice se tornou pedagoga. Entre os netos, os três filhos de Dete Lima, que cuida da concepção de figurinos do Ilê Aiyê, especialmente o usado pela rainha do bloco, têm nível superior: Valéria Lima, jornalista; Catarina Lima, historiadora; e Vinicius Lima, formado em Comunicação com Propaganda e Marketing.
Das filhas de Vivaldo, Val Benvindo também é formada em jornalismo e Marley Benvindo, em administração. Já Hildelita Barbosa, filha de Vovô, é graduada em Serviço Social.
A Escola Mãe Hilda está em sem funcionar desde a pandemia de Covid-19, pois a associação cultural decidiu não a incorporar à rede municipal. A escola manterá o formato de projeto do próprio Ilê Aiyê, mas está em processo de negociação para firmar uma parceria com a prefeitura.
Nela, participam de uma educação continuada em história da África e de cultura afro-brasileira. Podem ainda fazer oficinas de dança, percussão e figurino, dentre outras. A escola, inclusive, aplica em seu conteúdo os cadernos que são elaborados a cada ano com o tema do desfile do bloco, que, geralmente, é sobre países africanos e política.
EXPANSÃO DE REDE SOLIDÁRIA

Assim como o Ilê Aiyé, os outros blocos afros também incorporaram projetos educacionais, como o Olodum, com sua Escola Criativa, e o Malê Debalê, cuja unidade foi municipalizada e, atualmente, está em fase de transição para outro modelo. A mudança depende de convênio com a Secretaria Municipal de Educação.
Não apenas os ensinos básico e fundamental têm recebido atenção. O Instituto Steve Biko, criado em 1992, foi pioneiro na oferta de cursos de preparação para o vestibular, voltado exclusivamente para jovens negras e negros, em Salvador. Já são mais de mil “bikudos”, como os egressos que estão nas universidades são chamados.
Steve Biko desenvolve também um projeto chamado Oguntec, pois identificou quanto a área de exatas assustava os jovens negros. Ele tem como base promover ações de iniciação científica para jovens. Em 2008, Sheila Regina dos Santos Pereira venceu a categoria “graduado” do Prêmio Jovem Cientista com um trabalho sobre o projeto. Formada em estatística pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sheila é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e doutora em educação.
Essas experiências foram articuladas de forma a salvaguardar a chegada da Lei.10.639/2003. Uma das queixas, por exemplo, era a falta de material didático, o que os relatos dessas experimentações e as metodologias testadas nesses projetos ajudaram a constituir uma rede. Ao menos o caminho continua aberto, embora cheio de curvas.
–*–*–
Notas de pé de página
[1] No candomblé é essa origem étnica, especialmente a língua, que orienta as práticas litúrgicas como o canto, a dança e as rezas, estrutura básica dos ritos. Em terreiros de candomblé só se canta em português quando há celebração para os caboclos, um culto da memória de aliança entre africanos e seus descendentes e indígenas, inclusive nos quilombos.
–*–*–
Legenda da foto principal:A escola Eugênia Anna dos Santos foi criada no Ilê Axé Opô Afonjá por Mãe Stella de Oxóssi. Foto: Olga Leiria
–*–*–
A pauta desta série de reportagens foi selecionada pelo 5º Edital de Jornalismo de Educação, uma iniciativa da Jeduca e Fundação Itaú.
–*–*–
Leia a série completa
PARTE I
A lei fracassou? As estratégias dos movimentos negros O protagonismo dos terreiros e dos blocos afro Yabás em movimento As yabás I - Mãe Hildelice dos Santos
PARTE II
A escola do portão verde As yabás II – Ana Célia da Silva A hora da verdade O longo e desgastante trâmite no Congresso
PARTE III
Assuntos sobre negros importam A resistência de Lázaro Formação continuada na Uneb Escola reflete filosofia africana As yabás III – Vanda Machado O projeto pedagógico Yrê Aió
PARTE IV – FINAL
'Nenhum secretário teve a temática racial como prioridade' O silêncio absurdo de Thiago Remando contra a maré Pesquisa mostra a realidade brasileira Olívia e os novos desafios As yabás IV - Jacilene Nascimento
- Author Details
Cleidiana Ramos é jornalista, mestra em estudos étnicos e africanos e doutora em antropologia. Professora visitante na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), campus Conceição do Coité, produz a coluna semanal Memória, no jornal A Tarde. É especialista em religiões afro-brasileiras e católica. Outro tema que domina são as festas populares baianas.