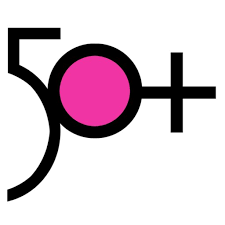A trajetória de Ivanilda Cardoso, menina negra, pobre e introvertida, que hoje é doutora em educação, revela a importância do que prevê a lei 10.639 e de projetos que amparem os alunos
Paulo Oliveira
“Lembro de um grande galpão e de uma árvore bonita. Eu gostava da árvore, do cheiro de terra molhada. Lembro de pedir para ir ao banheiro e, às vezes, andar na chuva, subir no pé de manga. Eu vi essa escola crescendo, ela virar um prédio, mas antes era um galpão. Também me lembro de um portão verde”
Quando Ivanilda Amado Cardoso, a Nida, atravessou pela primeira vez o acesso para a escola comunitária do projeto Chico Mendes, ela tinha cinco anos. Na época, as chances da menina avançar nos estudos eram ínfimas.
No início dos anos 1990, Saramandaia tinha 8.809 habitantes, segundo dados da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder). Do total, 24,53% (2.160) não possuíam instrução e 23,19% dos moradores e moradoras acima de 15 anos eram analfabetos; 2,81% (247) concluíram o ensino médio; e apenas 0,24% (23), o curso superior.

A jovem baiana, porém foi adiante: graduação em pedagogia, mestrado, doutorado com período “sanduíche” na Georgia State University (EUA) e pós-doutorado em educação[1].
A hoje analista de projetos sociais e educacionais do Instituto Unibanco acredita que diferentes fatores foram fundamentais em sua vida. Ela destaca o acolhimento de professoras negras, o fortalecimento da identidade racial, os processos de elevação de autoestima desenvolvidos a partir da escolinha da comunidade, além de bases familiares.
Os ensinamentos e objetivos sintetizados na lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, fizeram Ivanilda Cardoso driblar o preconceito e a violência para ascender socialmente e ter qualidade de vida. Mas nada disso teria acontecido se não houvesse projetos sociais e ações afirmativas para livrá-la de armadilhas como o trabalho infantil.
“A educação me salvou e me salva todos os dias da miserabilidade histórica que o racismo impõe à minha família”, diz a autora da tese “Intelectuais insurgentes no campo da formação de professores” e do livro infantil “Meninas insurgentes””.
A publicação infantil visa inspirar e empoderar crianças e adolescentes a partir da biografia de professoras negras que sonharam e lutaram para construir uma escola antirracista.
SEM GIBÃO E SEM LOBISOMEM
O bairro de Saramandaia surgiu nos anos 1970, em Salvador, a partir da invasão do terreno da Fazenda Pompílio, que havia sido desapropriada pelo governo do estado para a construção da Ceasa. O projeto foi abandonado em seguida.

A área compreendida entre quatro morros e dois vales foi ocupada. Os bairros Cabula e Pernambués, a rodoviária, o Detran e a faixa de domínio da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) passaram a ser os limites da comunidade, que os moradores batizaram de Saramandaia por causa de uma novela.
Em 1976, ainda no período da ditadura civil-militar, a TV Globo colocou no ar a obra do dramaturgo baiano Dias Gomes. Em estilo de realismo fantástico, a telenovela tinha personagens bizarros. Dentre eles, Gibão (o ator Juca de Oliveira), que fingia ser corcunda, mas na realidade escondia um par de asas, e o professor Aristóbulo (Ary Fontoura), o lobisomem.
Sem monstros e seres alados, a Saramandaia soteropolitana despertava a cobiça do mercado imobiliário devido à valorização das terras a partir da construção do Shopping Iguatemi (atualmente Shopping da Bahia), em 1975. A construção deslocou o centro econômico da capital para a região.
Outro fato relevante foi a explosão demográfica ocorrida entre as décadas de 1960 e 1970. A população de Salvador cresceu 165%, saltando de 693.801 para 1.147.821 habitantes, devido aos empregos gerados com a construção do complexo industrial de Aratu (1967) e de grandes obras de urbanização.
Em 1980, a invasão tinha 7.500 habitantes em casas de lona, barracos de madeira e de taipa. Adalgisa Silva, autora do livro “Histórias de areia e lama”, definiu a favela-bairro como um lugar fantasma, onde havia fome e as pessoas moravam em “casas cubículos”. Enquanto o shopping atraía pessoas de todos os cantos para lojas, restaurantes e cinemas, a diversão das crianças de Saramandaia era deslizar na lama.
Além de resistirem à remoção, os moradores se organizaram para lutar por seus direitos com a ajuda de missionários católicos. No texto “A organização comunitária do bairro Saramandaia e o direito à educação”, Rosângela Soares, José Cláudio Rocha e Felipe Bomfim relataram como a comunidade conseguiu a primeira escola municipal para o bairro, em 1985.
“A gente queria falar com o secretário de educação. Chegamos cedo e diziam que ele não estava. Ficamos na porta do gabinete e nada… Mandamos comprar pão e pedimos água para o lanche. Depois de muitas negativas, o secretário saiu da sala e foi ao banheiro, a gente foi atrás e quando ele saiu não teve jeito, levou todo mundo para o gabinete e assim conseguimos a escola” – revelou a líder comunitária Marisa.
A unidade de ensino, definida pela municipalidade como periférica e de difícil acesso, nunca foi suficiente para atender à demanda da educação básica na localidade.
A DIJINA DE OGUM
Geneci Soares da Cruz só veio a conhecer a própria história a partir dos 17 anos. Assim como outros moradores de Saramandaia, onde nasceu e se criou, ela estudava inglês com o padre Gearoid Fatharta, da Paróquia São Francisco de Assis.

Em uma das aulas, o religioso perguntou: “Who is Nelson Mandela?”. A jovem respondeu que não tinha vizinhos com os nomes Nelson e Madalena. O professor percebeu que a aluna não conhecia o líder da resistência não violenta contra o apartheid e que já estava preso há mais de duas décadas na África do Sul. O religioso passou a contextualizar o que ocorria na África em suas aulas. Ele teve a colaboração de outro padre, que passou a encenar peças de teatro amador sobre o tema.
Geneci se deu conta que, apesar de ser estudiosa, não sabia nada da terra de seus antepassados. Seus livros até o segundo ano do Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), que forma normalistas, não traziam uma linha sobre história africana e cultura afro-brasileira.
“Quando comecei a descobrir quem eu era, de onde eu vim, a coisa pegou. Eu comecei a estudar e a modificar a vida em Saramandaia primeiro” – contou a professora, que participou da fundação da escola comunitária Primeiros Passos, depois rebatizada como Chico Mendes.
A unidade, que homenageava o seringueiro e ativista acreano assassinado por defender a preservação da floresta amazônica, fazia parte do projeto social da Igreja São Francisco de Assis.
A professora ressaltou que os estudos no Centro de Educação e Cultura Popular (Cecup), baseados nos direitos humanos, na valorização étnico racial e na diversidade socioambiental, foram importantes em sua formação como ativista:
“Eu ia uma vez no mês no Cecup. Ele me abriu um leque de conhecimentos, que eu trouxe para a Chico Mendes. Eu já fazia a lei 10 .639 antes de ela existir” – recordou.
Geneci modificou, inclusive, a maneira de se ver e se entender. A princípio, não gostava do próprio nome. Preferia que em sua certidão de nascimento constasse Patrícia ou Carolina, segundo ela, mais aceitos pela sociedade.
“Ninguém se chamava Geneci. Minha mãe não sabia de onde tirou essa ideia. Quando passei a buscar minha origem, descobri que o nome tinha ligação com religião de matriz africana. No candomblé banto Geneci é uma dijina [2] de Ogum. A partir daí, passei a buscar mais informações para entender a religião de matriz africana, que até então era coisa do Diabo para mim” – disse.
Atualmente, a professora mora na Irlanda com o marido e dois filhos. E tem certeza que fez diferença na vida de seus alunos. Ao dar um exemplo, cita a ex-aluna Ivanilda, doutora em educação.
A Chico Mendes agora se chama Centro Educacional Casa da Esperança. Mudou de nome, mas mantém o acolhimento que sempre deu para as crianças do bairro.
A ACOLHIDA
Prestes a completar 35 anos, a educadora mora em São Paulo. Ela tateia a memória para buscar as lembranças de menina. A primeira definição que dá para a Chico Mendes é “uma escola afetiva”.
“A educação sempre foi prioridade em minha família, mas o fato de eu ser acolhida desde a infância por professoras e profissionais negras, mesmo que elas ainda não tivessem o embasamento de uma lei ou de referencial teórico, foi essencial para a minha trajetória.”
Quando entrou na Chico Mendes, a família Cardoso convivia com um sério problema: o alcoolismo do pai. Sem saber como lidar com a dolorosa experiência familiar, o acolhimento serviu de amparo.
“Eu me lembro de ter sido escolhida para ser a noiva da festa junina. Além da situação de meu pai, eu tinha dificuldades com a estética por ter cabelo crespo. Enfim, a escolha me deixou muito feliz. Mais tarde, percebi que foi intencional, no sentido de valorizar minha autoestima” – lembrou.
Outra recordação faz a educadora conectar a prática escolar com a perspectiva de correção, ação e oportunidade emocional que se debate atualmente em relação à lei 10.639: ela concluiu o ensino médio aos 18, um ano a mais que todos os seus colegas. Sem nunca ter sido reprovada, um dia perguntou à professora Ana Kelly, de quem se tornou amiga, o motivo do “atraso”.
Ana contou que a escola reteve a matrícula no ensino fundamental 1 para garantir assistência social e a segurança alimentar para a família dela. A Chico Mendes fornecia alimentos, sopa e leite.
Na visão da escritora e pesquisadora, o método da unidade de ensino comunitária era mais influenciado pelas professoras do que pelos padres que mantinham o projeto. Estes, por sua vez, obtinham verbas através de “padrinhos” estrangeiros, responsáveis por doações específicas para as crianças.
Ivanilda ressaltou ainda que intelectuais e educadoras participavam do Movimento de Educação Básica (MEB), vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O movimento incluía agentes de pastorais negras [3] e das pastorais da juventude [4]. Geneci, segundo a ex-aluna, tinha ligações com estes grupos. Assim, as práticas reverberavam na formação das crianças.
Aos oito anos, a menina de Saramandaia foi matriculada na Escola Estadual Professora Mariinha Tavares. Nessa época, o irmão Ivan a incentivou a ler. Logo, se interessou por “Os patins de prata”, de Mary Mape Dodge, um clássico da literatura infantil, cuja história, assim como a de Ivanilda, é marcada por sonhos e pela pobreza.
DRIBLANDO A ARMADILHA
Começou como uma brincadeira. Na 1ª série, a menina ajudava o tio a vender bolsas em uma barraca no improvisado camelódromo, próximo à rodoviária de Salvador. O que era entretimento estava ficando sério para ela e para o primo, pois o que ganhavam era incorporado na renda familiar.
Em 1996 foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), apoiado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A bolsa de R$ 40 (quarenta reais) – equivalentes à 40 dólares à época e a R$ 200 (duzentos reais) atualmente – afastou Ivanilda do trabalho precoce e permitiu que ela continuasse a estudar.
Afastada das barracas de ambulantes da rodoviária, a menina se inscreveu no curso de capoeira da Fundação Cidade Mãe (FCM). A instituição, vinculada à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SMPJ), executa políticas públicas para crianças e jovens em risco pessoal, social ou de violação de direitos.
Como as vagas para aprender capoeira tinham sido preenchidas, a garota foi para o grupo de teatro. A princípio detestava a atividade por ser tímida e introvertida Lá, no entanto, conheceu a professora Jaciara Santos. Se a escola Chico Mendes foi a primeira experiência de afeto, importante para a construção de sua identidade, a FCM lhe deu régua e compasso para traçar o próprio caminho.
Sete anos antes da lei 10.639 entrar em vigor, Jaciara, professora negra com letramento racial, apresentou textos antirracistas para os estudantes. Enquanto a criançada produzia e apresentava os espetáculos, aprendia a história de Anastácia (mulher escravizada condenada a viver com uma máscara punitiva de ferro e considerada santa no Brasil e na África), e Luiza Mahin, ex-escravizada que comprou a liberdade e teria tomado parte na articulação dos levantes nas primeiras décadas do século XIX, na Bahia.
Ivanilda representou as duas.
Anos depois, quando estudava o programa de práticas docentes, entendeu que a intenção da professora era ensiná-la a transgredir, como propôs bell hooks [5]. Para a educadora, ensinar é um ato teatral e a educação deve ser a prática da liberdade [6].
OS COLÉGIOS DE CLASSE MÉDIA
Devido à escola Mariinha Tavares ser marcada, à época, pela ausência de professores e por casos de violência em seu interior, a mãe da futura educadora a transferiu para a Escola Estadual Nogueira Passos, na Pituba, bairro de classe média a seis quilômetros de distância e 50 minutos a pé de Saramandaia.

Aos 11 anos, na 4ª série, a garotinha ainda enfrentava problemas para se manter na escola. Na maioria das vezes, ela fazia os trabalhos escolares sozinha. A única colega com quem dividia as tarefas às vezes era Camila, outra estudante negra. Ivanilda demorou a entender que sofria discriminação na escola.
A ida para outro colégio estadual, também na Pituba, foi marcante e dolorosa. O Raphael Serrravalle era conhecido por ser a unidade onde os pais castigavam os filhos de classe média que eram reprovados em escolas privadas.
“Eu nunca vou esquecer de um menino chamado Tiago. Eu o vejo, às vezes, no Instagram. Ele me chamava de macaca quando me via no corredor. Era horrível, e ninguém fazia nada. Eu estava na quinta série e tinha muita vergonha” – admitiu.
Nesses momentos, a menina lembrava da tia, que frequentava o Olodum e o Ilê Ayê, blocos afros que valorizam a história e a identidade do povo negro. Em casa, a irmã da mãe a incentivava a ter orgulho: “Você é negra. Trança esse cabelo!”.
Sair da escola não era opção. A mãe não deixaria. Novamente o teatro era uma válvula de escape. Aos 14 anos, a estudante participou de um projeto social e escreveu uma peça de teatro para dez crianças do bairro apresentarem. O espetáculo se chamou “Quem foi a pátria que me pariu?”, influenciada pela música de Gabriel Pensador sobre uma prostituta de 17 anos e uma gravidez indesejada.
Foram três anos na função até que ela conheceu o núcleo de resgate e preservação da cultura afro-brasileira, a organização não governamental (ONG) Omi-Dúdù [7]. O grupo sempre se baseou na estética e no processo de afirmação da identidade étnica para intervir nos rumos da juventude soteropolitana.
Primeiro Ivanilda fez curso de trança. Depois foi selecionada para trabalhar na instituição, através do projeto Consórcio Social da Juventude [8]. Com uma bolsa de R$ 100 (cem reais), reajustada para R$ 110 (cento e dez reais) em pouco tempo, ela percorria escolas, trançando cabelos e embelezando meninas negras. Posteriormente, foi promovida a técnica pedagógica, cuja função era coordenar o grupo de trançadeiras e palestrantes que participava da implantação da lei 10.639 nas escolas.
A experiência e apoio que teve de uma rede desconexa formada por órgãos públicos e ONGs lhe deram confiança suficiente para questionar uma professora durante o ensino médio. Já adolescente, perguntou à professora se podia fazer uma atividade sobre a lenda do maculelê como trabalho em uma aula de folclore.
“Ela respondeu que não, porque aqui não era a África. E eu disse: ‘A senhora está sendo racista’” – afirmou.
No último ano do ciclo médio, a adolescente e o irmão Ivan assumiram as despesas da família. Para isso, ela se transferiu para o turno da noite e foi trabalhar em uma lavanderia pela manhã e em uma loja de roupas à tarde. Mesmo cansada e cochilando durante algumas aulas, o conteúdo que adquiriu foi suficiente para concluir o curso em 2008.
No ano seguinte, mudou-se para São Paulo, onde iniciou o curso de pedagogia na Universidade Paulista (Unip), graças ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Ao mesmo tempo, trabalhava na organização social Criança Brasil, em Jardim Panorama, e em um salão de beleza, em Santo Amaro.
Incentivada pelo tio Nilton Amado, que cursava pós-doutorado em engenharia elétrica, a universitária baiana se candidatou a uma vaga no curso de pedagogia em uma universidade pública. Ela aproveitava os momentos livres de clientes no salão de beleza para fazer simulados de provas. O tio, vendo o esforço, custeou o curso pré-vestibular para a sobrinha.
A soma de esforços levou Ivanilda à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), campus Marília, onde se formou em pedagogia. E de lá seguiu em frente.
–*–*–
Notas de pé de página
[1] A graduação foi pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp, campus Marília, São Paulo), O mestrado e o doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar–SP), doutorado sanduíche na Research Scholar na Georgia State University, em Atlanta, Georgia (EUA) e pós doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP).
[2] Dijina significa nome no dialeto banto. No candomblé, o nome do inquice (divindade) da pessoa deve ser secreto. Somente o pai ou mãe de santo devem conhecê-lo. Os iniciados após a feitura recebem uma dijina, pela qual só devem ser chamados dentro do culto religioso.
[3] Agentes de Pastoral Negros (APNs) foram instituídos pelo Movimento Negro Brasileiro com uma tradição macroecumênica e inter-religiosa com o foco em diferentes comunidades de fé. Os APNs surgiram entre as décadas de 1970 e 1980, com o lema:” Conscientização, Organização, Fé e Luta!”. Nesse momento que leigos, padres e religiosos negros e negras sentiram a necessidade de se organizarem dentro dos espaços eclesiais, com a necessidade de estudar e conhecer melhor a realidade da comunidade negra. Já a Pastoral Afro-Brasileira foi oficializada como organismo oficial da Igreja do Brasil em 1998. No entanto, desde a Campanha da Fraternidade (CF) de 1988, com tema “A Fraternidade e o Negro” e o lema “Ouvi o Clamor deste Povo”, a Igreja Católica deixou claro que: 1- A situação econômica e educacional da população afro-brasileira tem grandes desigualdades; 2 – Os negros são vítimas de discriminações e estão expostos a todo tipo de perigo na sociedade; 3 – O racismo ainda está muito presente.
[4] A Pastoral da Juventude Nacional (PJ) se desenvolveu a partir da Ação Católica Especializada, nos anos 1960, e dos concílios de Medellín (Colômbia – 1968) e Puebla (México – 1979), que fizeram opções pelos pobres e pelos jovens. A partir daí, as dioceses se organizaram para evangelizar jovens em pequenos grupos. A PJ valorizou e incluiu novos segmentos: juventude rural, juventude estudantil, juventude universitária e juventude dos meios populares.
[5] A autora, professora e ativista antirracista americana Gloria Jean Watkins (1952-2021) era mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks, em letras minúsculas. Ela publicou mais de 30 livros e participou de filmes e documentários. Sua obra incide sobre interseccionalidade de raça, capitalismo e gênero e sobre a capacidade de se produzir e perpetuar sistemas de opressão e dominação de classe.
[6] Conforme consta no livro “Intelectuais Insurgentes no campo da formação de professores(as)”, de Ivanilda Amado Cardoso.
[7] Significa Água Preta em português.
[8] Parte integrante do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), do Ministério do Trabalho e Emprego, o Consórcio Social da Juventude (CSI) foi realizado de 2004 a 2007. Este projeto tinha como objetivo qualificar jovens de baixa renda para a conquista do primeiro emprego.
–*–*–
Legenda da foto principal: A cor do portão foi mantida, mas a escola comunitária Chico Mendes, em Saramandaia, mudou de nome. Agora ela se chama Casa da Esperança. Foto: Paulo Oliveira
–*–*–
A pauta desta série de reportagens foi selecionada pelo 5º Edital de Jornalismo de Educação, uma iniciativa da Jeduca e Fundação Itaú.
–*–*–
Leia a série completa
PARTE I
A lei fracassou? As estratégias dos movimentos negros O protagonismo dos terreiros e dos blocos afro Yabás em movimento As yabás I - Mãe Hildelice dos Santos
PARTE II
A escola do portão verde As yabás II – Ana Célia da Silva A hora da verdade O longo e desgastante trâmite no Congresso
PARTE III
Assuntos sobre negros importam A resistência de Lázaro Formação continuada na Uneb Escola reflete filosofia africana As yabás III – Vanda Machado O projeto pedagógico Yrê Aió
PARTE IV – FINAL
'Nenhum secretário teve a temática racial como prioridade' O silêncio absurdo de Thiago Remando contra a maré Pesquisa mostra a realidade brasileira Olívia e os novos desafios As yabás IV - Jacilene Nascimento
- Author Details
Jornalista, editor, professor e consultor, 61 anos. Suas reportagens ganharam prêmios de direitos humanos e de jornalismo investigativo.